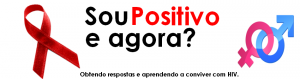Estudo de Caso: Doenças estigmatizantes em sala de aula
“Sou jovem posithivo…
Mas calma minha gente, estou vivo…
Sou homem, sou poeta, sou flecha que acerta…
Sou efavirenz, tenofavi, lamivudina.
Esses fazem parte da minha rotina…
Não sou aidético, esquelético.
Por favor, sejam mais éticos.
Sou jovem positivo…
Cd4, carga viral. Um me faz bem, o outro me faz mal…
Sou aquele que ama, que chora…
Sempre vou lutar e não venha me discriminar por com HIV eu estar…
(Poeta posithivo)
Créditos: https://goo.gl/uMNOxg
Objetivo
Para o Estudo de Caso 03 o DDD abordou a temática das doenças estigmatizantes! Para podermos nos aprofundar melhor acabamos focando, especificamente, na questão da AIDS e do vírus HIV. Nosso recorte de bibliografia ficou, assim, restrito à Síndrome da Imuno-deficiência Adquirida (AIDS) e o Vírus da Imuno-deficiência Humana (HIV).
Pensamos em debater esse tema principalmente porque ele é um grande tabu mesmo em espaços de desconstrução. Falar de doenças e, principalmente, falar em AIDS e HIV é algo raro, mas de grande importância tanto para prevenção quanto para a desconstrução do estigma social. Acreditamos que é somente pela conscientização que se combate o preconceito e a própria doença. Acreditamos que é importante primeiro enxergar onde estão as pessoas que pretendemos alcançar com o ensino para que possamos de fato chegar nelas. O quanto difundimos de informação sobre HIV e AIDS hoje não nos permite enxergar por completo este caminho.
Revelar a sorologia pode ser sim um método de combate ao preconceito, mas não deve ser encarado como único meio, muito menos como um dever de pessoas soropositivas. Se por um lado é importante que saibamos a respeito e que se debata o assunto de maneira franca, muitas vezes pode decorrer deste debate a exposição da pessoa soropositiva. Se por um lado benéfica por dar representatividade, pode ser perniciosa por potencialmente transformar estas pessoas em alvos de preconceito.
Importante notar e admitir que até mesmo quando nos esforçamos para combater o preconceito ele pode ser reproduzido de alguma forma. Portanto, o ideal é que todos os integrantes da discussão estejam abertos a possíveis correções e que essas ocorram da maneira mais delicada possível, de modo a induzir o ou a aluna à reflexão acerca do preconceito proferido e possa desconstruí-lo, seja no momento do debate, seja conversando com os e as colegas em outro momento em que se sentir mais à vontade.
Quantas pessoas soropositiva você sabe que estudaram com você? Na infância, no colegial, na faculdade? Como a doença muda seu estigma a depender do modo como ela foi contraída? Como isso afeta a permanência dessas pessoas em sala de aula? Existem vítimas inocente e vítimas responsáveis?
Essas foram algumas das principais questões que levantamos durante o debate, tendo em vista o objetivo de aprendermos um pouco mais sobre as doenças estigmatizantes e como elas são retratadas em nosso cotidiano.
Dinâmica do encontro
Para iniciar o encontro realizamos uma dinâmica que consistia em distribuir cartões com o resultado de um teste de HIV. Fizemos cartões para cada integrante do grupo, com resultados (positivo ou negativo) distribuídos de acordo com a proporção de 25% dos cartões com resultado positivo (correspondente a 4 pessoas) e 75% dos cartões com resultado negativo (correspondente a 12 pessoas). Neste ponto é importante delinear que, tendo em vista o número reduzido de participantes e nosso objetivo de trabalhar a empatia durante toda a discussão, não pudemos reproduzir a proporção de sujeitos portadores e não-portadores do vírus HIV na população brasileira (dados disponíveis no link a seguir: http://goo.gl/brQI5). No entanto, caso a dinâmica seja reproduzida numa sala de aula com um número considerável de educandos-educadores, é interessante que se reproduza a porcentagem em questão.
Ainda sobre a dinâmica dos cartões, no primeiro momento o cartão só poderia ser aberto por aqueles que já realizaram o teste. Depois que todos aqueles que já haviam feito o teste olharam o resultado, os demais integrantes também abriram os seus cartões. Assim que todos leram, pedimos que escrevessem o sentimento que tiveram ao ler os seus respectivos resultados dos testes. Absolutamente todos que tiraram o resultado negativo disseram que sentiram alívio. E aqueles que tiraram o resultado positivo tiveram reações distintas, mas todos ficaram preocupados. A discussão versou principalmente sobre os estigmas que os portadores do vírus HIV enfrentam e como os integrantes do grupo não conheciam muitas pessoas que declarassem serem soropositivas, reforçando a ideia de que existe um forte tabu sobre a doença.
Avaliação
Como se trata de assunto delicado, e que não é discutido com frequência, a utilização do glossário com alguns conceitos básicos referentes ao tema foi crucial para nos aprofundar no debate. Com alguns termos-chave em mãos, tentamos ao máximo não reproduzir preconceitos em nossas falas. Neste aspecto a dinâmica contribuiu muito. Na maioria das vezes, o sujeito apenas realizará o teste de HIV se acreditar que teve alguma forma de exposição ao vírus. Isso se refletiu na dinâmica, pedindo para que as pessoas abrissem os cartões em duas fases: uma para os que já haviam se testado, e outra para os que não. Ficou evidente que não incluímos em nossa rotina de exames de saúde as doenças estigmatizantes. Acreditamos que o tabu que ronda tais doenças contribui para este fato, uma vez que o inconsciente comum tende a assumir culpadas as pessoas que façam o teste de rotina. Desta forma, colocar a prevenção a AIDS como ação que visa resguardar nossa saúde, tirando o estigma da doença, é benéfico tanto para a prevenção, quanto para gerar discussões mais aprofundadas a respeito do tema. A discussão teve dois eixos principais: o tabu construído em relação a portadores do vírus como sendo sujeitos com atividade sexual “promíscua” e pertencentes às LGBT’s, e como construir políticas públicas com vistas a conscientizar a população sobre a prevenção e tratamento da doença.
É interessante que a facilitadora estimule nos e nas alunas lembranças sobre quando este tema foi discutido em seu cotidiano. Em que circunstância isso foi falado? Sob que aspecto? Qual era o objetivo almejado pelos debatedores em questão? Àqueles que já tenham feito o teste, interessante indagar sobre como era o local em que ele foi feito. O grupo ouviu de alguns integrantes que o lugar destinado ao teste da sorologia era customizado com a temática LGBT. Esta customização dá a entender que os destinatários daquela política pública são as integrantes de tal comunidade, e apenas estas pessoas. Desta constatação decorre uma questão para o operador do direito: como estruturar uma política pública que estimule toda a população a entender que fazer o exame é uma questão de saúde e não uma “fatalidade” de uma população específica? Ao mesmo tempo como se faz confortáveis estes espaços para as referidas minorias?
Também vale ressaltar que os e as alunas devem ter preservado seu espaço, individualidade e momento de se posicionar. Este é um pressuposto que perpassa todas as dinâmicas de grupo. Nesta temática este aspecto merece maior atenção. Como afirmamos acima, da discussão não decorre o dever do ou da participante de revelar sua sorologia. Isto porque se revelar soropositivo pode levar à exposição daquele que se abre a respeito. Tal exposição pode potencialmente gerar situações de preconceito fora daquele espaço em que a educadora-educanda sentia-se segura. Para evitar essas situações, o DDD tem regras próprias acordadas entre os integrantes como o “Vegas”, que é um combinado do grupo DDD pelo qual “o que acontece no DDD, fica no DDD”.
Por fim, deixamos algumas perguntas (e breves respostas) práticas sobre HIV e AIDS
O que é aids: AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida.
O que é HIV: O HIV é o vírus da imunodeficiência humana.
Como se contrai o vírus: As formas de transmissão mais relevantes são o contato sexaul desprotegido, o uso de drogas injetáveis com compartilhamento de seringas e a transfusão de sangue.
Pessoas morrem de AIDS? A AIDS em si não mata. A doença ataca os linfócitos TCD4, responsáveis por combater outras enfermidades. Assim, outras doenças acabam por ter sua instalação facilitada, que podem mais facilmente causar a morte da pessoa soropositiva que não esteja em tratamento.
“Grupos de risco”: É um termo antigo, mas ainda hoje utilizado, para segregar a população entre “normal” e “com altas chances de contrair a doença”. Como era de se esperar, os “grupos de risco” incluem homens gays e bissexuais, trabalhadoras e trabalhadores do sexo, a população T.
Vulnerabilidade: é o conceito tido atualmente como mais correto. Além de refletir melhor a relação entre os indivíduos e o vírus, não traz a carga de culpabilização que os termos anteriores traziam.
TARV – é a terapia antiretroviral. No Brasil foi inserida em 1996 como parte do acesso gratuito e universal aos serviços de saúde e medicamentos. O Brasil tem uma alta taxa de adesão ao tratamento. Pessoas que estão se tratando podem, e em geral chegam, a taxas virais indetectáveis. Isto significa que uma pessoa fazendo a terapia antiretroviral não transmite o vírus.
PEP – é a profilaxia pós exposição, que pode evitar que se contraia o vírus do HIV http://goo.gl/W9qlf
Onde eu faço o teste? http://goo.gl/Ni8cw
Indicação de página do Facebook:
A “Eu e ele” trata, principalmente, sobre a temática do HIV e da AIDS, dando voz a pessoas soropositivas nesta questão. Indicamos aos e às interessadas que a sigam no link a seguir: https://goo.gl/SKLNVN
Outras mídias:
Põe na Roda: HIV Hoje com Drauzio Varella https://goo.gl/Ev34Xg
Episódio 1 da Mini- série “Viral” produzida pelo canal do youtube Porta dos Fundos https://goo.gl/Ev34Xg
Sou um Cartaz HIV Positivo https://goo.gl/qEOTPr